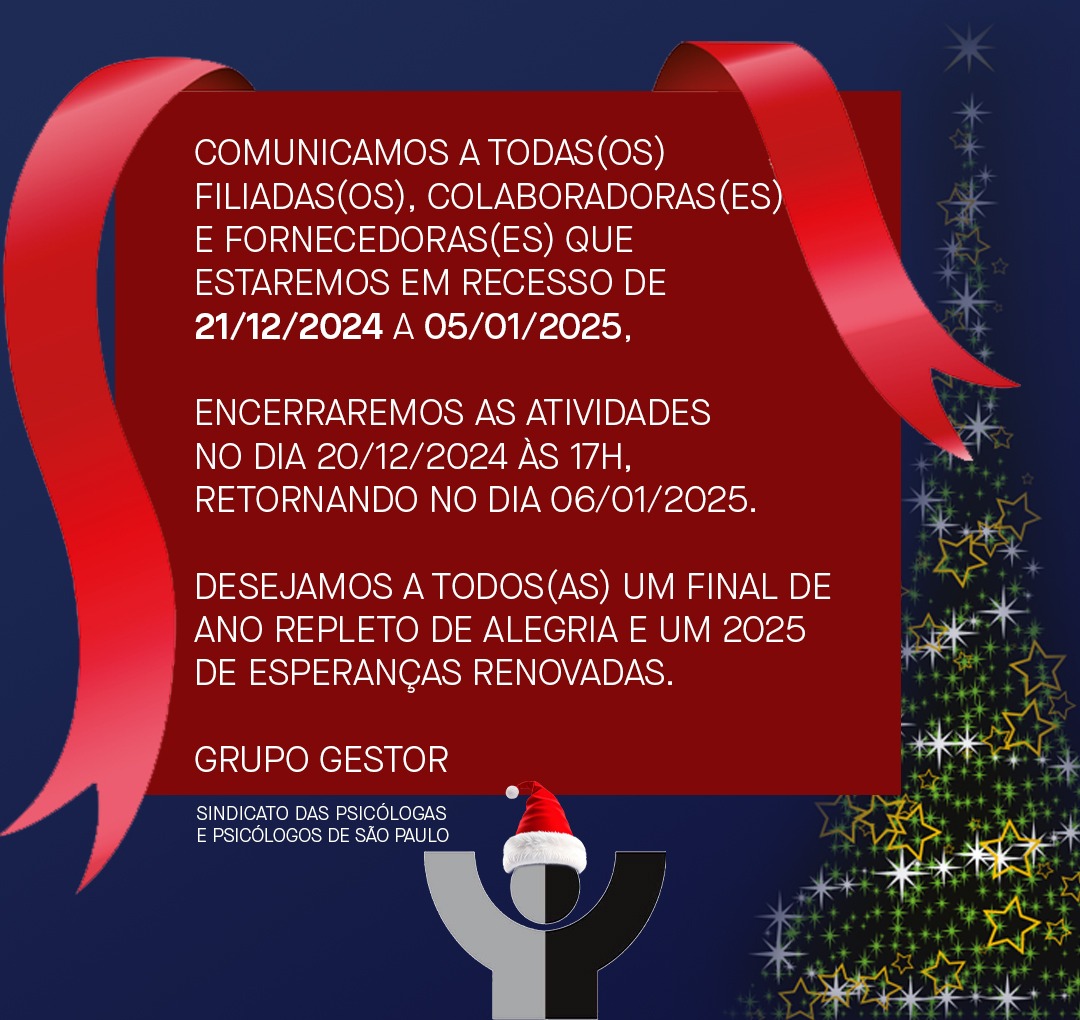Clínicas do Testemunho abrem espaço para expor traumas da violência provocada por quem deveria proteger o cidadão: o Estado
São mais de 8 da noite de uma quinta-feira de julho em São Paulo, e algumas dezenas de pessoas estão reunidas para ouvir falar de dores. É uma sessão pública de uma Clínica do Testemunho, projeto criado em 2013 sob a responsabilidade da Comissão de Anistia, do Ministério da Justiça, para ouvir gente atingida, direta ou indiretamente, pela violência cometida por quem deveria protegê-las: o Estado. Essas clínicas escutam pessoas que sofreram ou testemunharam dores da ditadura.
Depois de alguma timidez inicial, elas começam a se dirigir ao microfone. Os relatos mostram três sensações comuns. O medo que se sentiu e ainda permanece. A dor vivida, física e mentalmente. E a desconfiança do Estado, que ainda desrespeita direitos básicos.
“Eu era mais jovem, militante na JEC (Juventude Estudantil Católica). Discutindo a encíclica, os problemas sociais, estávamos nos comitês que havia em Natal. Toda aquela efervescência acabou, aquela alegria, as pessoas participavam das coisas da cidade. O que fazer?”
“Nasci em 1974. Sou filha de um operário. A fábrica que o empregou veio dos Estados Unidos, com promessas de desenvolvimento. Meu pai não teve acesso à história que é contada hoje. Para quem não faz parte dessas famílias (de perseguidos), a verdade vem à tona agora.”
“Sou professor de História, militante, já trabalhei com sindicatos e com sem-terra. Ainda há uma massa sólida de injustiça. Quem tem poder, continua. Só se arranha (a estrutura). Estamos em busca de uma justiça que não sabemos onde encontrar.”
Desconfiança
Para o presidente da Comissão de Anistia e secretário nacional da Justiça, Paulo Abrão, as Clínicas do Testemunho compõem a quarta vertente de um programa de reparação que é considerado modelo. As três anteriores são a econômica, a moral (pedido de desculpas) e a coletiva (com projetos de memória). O projeto lançado em 2013 propõe, além da atenção terapêutica, capacitar profissionais na área de psicologia para enfrentar a violência institucional. “Vínhamos acumulando a percepção de que os danos são transgeracionais”, diz Abrão.
Uma preocupação das clínicas é cuidar dessa “peculiaridade traumática” para a superação do medo, da dor e da desconfiança. A destruição das liberdades por aquele que deveria garanti-las leva à sensação de que não há a quem recorrer. “É um trauma levado à máxima potencialidade”, diz o secretário. Outro objetivo, segundo ele, é resgatar a confiança no Estado e nas instituições. “Fazer com que o cidadão perceba que algo mudou e que o Estado tem consciência dos erros do passado.”
A militante estudantil do primeiro depoimento citado neste texto conta ainda que deixou a organização clandestina em que atuava por não se sentir preparada. “Disse a um companheiro: não tenho estrutura para estar onde estou. Ele disse: ‘companheira, a estrutura se faz no processo’. Eu saí. Respeitaram a minha decisão. Meu namorado foi preso e levado para Recife. Foi um primo que denunciou. Passei depois a esconder pessoas. Medo muito grande. Culpa por não estar participando. Continuei uma militância não formalizada.” (A voz fica bastante pausada.) “Era um medo muito grande de conversar com as pessoas. Meu filho demorou a falar, por falta de convívio social. Amigos sendo mortos, presos. As relações eram todas permeadas por medo e por culpa.”
Quatro institutos respondem pelas cinco clínicas atualmente em funcionamento, em São Paulo (duas), Pernambuco, Porto Alegre e Rio de Janeiro. No dia da sessão pública, os testemunhos eram acompanhados por três psicanalistas. O testemunho é um articulador do tratamento, diz o terapeuta Issa Mercadante, para “falar sobre aquilo que ficou sem lugar de escuta”. É um “lugar de circulação de uma palavra que não pôde ser dita”, acrescenta Rodrigo Blum. Ou onde se dá “a quebra do silenciamento pela identificação de experiências”, nas palavras de Maria Marta Azzolini.
Antes dos depoimentos, é exibido o documentário Verdade 12.528, referência ao número da lei que em 2011 criou a Comissão Nacional da Verdade. Dirigido por Paula Sachetta e Pen Robles, o filme foi lançado em outubro do ano passado, durante a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ela nasceu em 1988. Ele, em 1985. “Não vi o que foi a ditadura, não tenho parente morto ou desaparecido. No entanto, o Brasil hoje sofre os resquícios daquela época. É um filme para o jovem mesmo”, diz Paula.
O filme tem 55 minutos de duração justamente para caber em uma hora-aula. E deve ser distribuído na rede municipal paulistana ainda este ano. A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania está preparando um kit “direito à memória e à verdade”, que inclui esse e outro documentário (O Dia que durou 21 Anos, de Camilo Tavares) e três livros.
Financiado parcialmente pelo site coletivo Catarse, Verdade 12.528 traz dezenas de depoimentos colhidos durante um ano – Amélia Teles, Bernardo Kucinski, Clarice Herzog, Criméia de Almeida, Franklin Martins, Ilda Martins da Silva, Ivan Seixas, Laura Petit, Marcelo Rubens Paiva, Maria Rita Kehl, Pedro Pomar, Paulo Sérgio Pinheiro, Vera Paiva, camponeses do Araguaia, uma representante da Frente de Esculacho Popular (Lavínia Del Roio), entre outros. Narra dramas pessoais e propõe uma reflexão sobre a Comissão Nacional da Verdade (CNV), que está em seus últimos meses de funcionamento.
Exibido o filme, alguém da plateia lembra uma passagem com Franklin Martins, para quem o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra tem vergonha do que fez. “Malhães não tinha vergonha. Falou tudo aquilo com prazer enorme. Minha pergunta é: que mecanismo leva uma pessoa como Malhães a dizer tudo aquilo?” Era referência ao depoimento do também coronel reformado Paulo Malhães, ex-agente do Centro de Informações do Exército, à Comissão da Verdade, na qual relatou uma série de torturas sem demonstrar arrependimento. Em 25 de abril, um mês depois desse depoimento, o ex-militar foi encontrado morto no sítio onde morava, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Esquecimento
Os depoimentos prosseguem. “Vou ter de falar, desculpe. Não tenho ninguém da minha família, nem perto de mim, que foi torturado. Eu era uma criança muito sensível, que vivi muito medo na minha infância. Minha mãe dizia: ‘filha, você não pode falar do governo’. Eu nem sabia o que era governo. O medo estava presente o tempo todo. A gente tem de lembrar, sim. A educação foi destruída. Meus primos tiveram educação pública de qualidade. Por que acontece ainda hoje (repressão) em Belo Monte? Porque não foi lembrado, não foi trazido à tona.”
“Quando a sociedade lembrar, talvez as pessoas possam esquecer um pouco. Não tem nada a ver com fazer uma ode ao passado, mas tem a ver com construir um outro futuro.”
“Existem patriotas nossos que entram numa sala dessas e não se sentem seguros. Não podemos cair no erro de achar que isso está superado.”
Segundo Paulo Abrão, as clínicas formam uma nova política pública, “inovadora e inédita no Estado brasileiro”, e superaram expectativas, com mais de 2 mil atendimentos até aqui. “Há 160 pessoas ativamente recebendo atenção terapêutica.” Já se decidiu pela prorrogação das clínicas por seis meses, até junho do ano que vem. Abrão observa que foi uma decisão cautelosa, considerando o ambiente de transição governamental. “Hoje, as Clínicas do Testemunho são um programa permanente da Comissão de Anistia. Não se cogita extinção. Mas não vamos tomar decisão de cima para baixo.”
Um senhor de olhos pequenos e cabelos totalmente brancos se identifica. É o gaúcho Emilio Ivo Ulrich, ex-praça do Exército, preso em novembro de 1970. “Saí da prisão no final de 71 e nunca falei. Eu sou hoje um ex-calado. Às vezes nem eu entendo o que aconteceu nesse período pós-cadeia. As pessoas dizem: teve uma ‘ditadurinha’, mas o país se desenvolveu. Fui perceber que tinha de contar uma coisa de natureza pessoal, que foi a humilhação que sofri pelo Exército brasileiro”, se apresenta.
Não é a primeira vez que Emilio participa de uma clínica. Ele já contou ter sido torturado no Doi-Codi de São Paulo durante 30 dias seguidos. “Um ano atrás, praticamente não me manifestei e chorei muito.” Conta ter feito um exercício para falar sem se emocionar. “Não é dividir a dor, é só recompor. É tentar racionalizar para contar de forma objetiva.” E ele conta que um de seus torturadores se enfureceu ao ouvi-lo dizer algo como “ai, minha mãe” ou “minha mãezinha” em plena cadeira do dragão. “O torturador disse que quem devia estar lá ‘era a filha da puta da sua mãe’”, lembra. No pau de arara, outro grito: “Ai, meu Deus do céu”. Fúria do delegado: “Desta porta pra dentro, nesta sala, Deus sou eu”.
Conta outras barbaridades. “Um ano atrás eu falava isso chorando, chorando, chorando. Tive companheiros mortos.” Não militante, dava suporte à Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Vinculou-se a um de seus comandantes, Yoshitami Fujimori, morto em dezembro de 1970. Emilio distribui a quem pede um poema chamado Elogio de Praça, “dedicado” a Brilhante Ustra, que ele viu se encaminhar para a sala de tortura em um dia chuvoso no Doi-Codi. O temor ainda está presente, mas ele parece se sentir melhor. “Agora estou me tornando um sujeito tão atrevido como quando tinha 17 anos nas ruas de Porto Alegre.”
Falar é recompor
A psicanalista Bárbara Conte, coordenadora da Clínica do Testemunho no Rio Grande do Sul, vê no silêncio prolongado uma das situações de maior impacto nos atendimentos. “Há quanto tempo essas pessoas vivem nesse silêncio, e não tiveram espaço onde falar sobre isso? Inclusive pessoas que militaram juntas e não sabem bem a história dos outros. Isso tem proporcionado reencontros”, relata.
Há entraves sociais e individuais para que o silêncio perdure. “As pessoas têm medo de falar”, diz Bárbara. E também de mexer onde dói. Tem pessoas que enlouqueceram, que tiveram suas vidas interrompidas – não no sentido da morte.” As clínicas buscam proporcionar o espaço para acolher os testemunhos. “As pessoas criam elos de identificação e dão outro sentido à experiência vivida.”
E existe a peculiaridade de se tratar de uma violência que partiu do próprio Estado. “Na nossa experiência, isso dificulta a confiança. Como o Estado que fez isso agora se propõe a reparar?”, observa Bárbara. Para ela, há outras iniciativas de reparação que ajudam a recuperar a credibilidade, e o ato de falar da própria experiência já configura uma reparação. “Falar é recompor. Psiquicamente, recompor elos, vivências que foram rompidas, mutiladas. A partir da fala dirigida ao outro (profissional da psicologia) e aos iguais, aqueles que viveram a mesma situação.”
Nas clínicas gaúchas participam militantes e familiares de primeiro e segundo graus. Muitos só recentemente descobriram o que aconteceu com pessoas próximas. “Muitas nunca souberam e tomam conhecimento ali”, diz. “Por meio da fala, da escuta, do compartilhamento, as pessoas experimentam uma nova situação como sujeito na sua comunidade, na sua família.”
Comissão da Verdade: últimos meses
Faltam poucos meses para a entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, prevista para ocorrer no Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro). A expectativa é a mesma desde que a comissão foi instalada, em 16 de maio de 2012: até que ponto vai a comissão e que impacto poderá ter seu relatório? Para o coordenador da CNV, Pedro Dallari, a percepção da sociedade já começou a mudar.
Ele identifica duas missões para o colegiado. Além do relatório, desenvolver iniciativas que ajudem a reconstituir o período de investigação, sensibilizando a sociedade para o tema. “Entendo que as duas serão cumpridas de maneira satisfatória. O relatório vai consolidar muito do que já se sabia e agregar informações. Eu tenho dito que as investigações sobre as graves violações de direitos humanos não começaram e não vão acabar com a Comissão Nacional da Verdade. Será (o relatório) um documento muito abrangente, muito consistente.”
Se adiante haverá responsabilização de envolvidos com essas violações, Dallari destaca que essa não é uma atribuição da CNV. “Temos tido essa preocupação de fazer com que essa hipótese de responsabilização não seja um fator de dificuldade para os trabalhos da comissão. Queremos que os depoimentos ocorram, que as pessoas falem. Agora, é inevitável que o relatório e as atividades da comissão acabem tendo um impacto a favor da tese de uma responsabilização. Não porque a gente queira, mas por decorrência natural do trabalho da comissão.”
Avanços já ocorreram, salienta Dallari. Com ajuda da comissão do Rio de Janeiro, por exemplo, o caso Rubens Paiva, desaparecido em 1971, foi desvendado. “A única informação que falta é o destino que foi dado ao corpo.”
Além disso, segundo ele a divulgação de relatórios parciais ajudou a “esvaziar” os atos que buscavam celebrar os 50 anos do golpe. “Apesar do quadro de insatisfação com a política, que é evidente, essa insatisfação não foi canalizada para uma onda nostálgica em relação à ditadura.”
O coordenador destaca ainda o fato de as Forças Armadas terem aceitado investigar casos de tortura em algumas de suas unidades, ainda que o resultado da sindicância tenha sido “decepcionante”. Para Dallari, a negativa de admitir violações é “brigar com a história comprovada”.