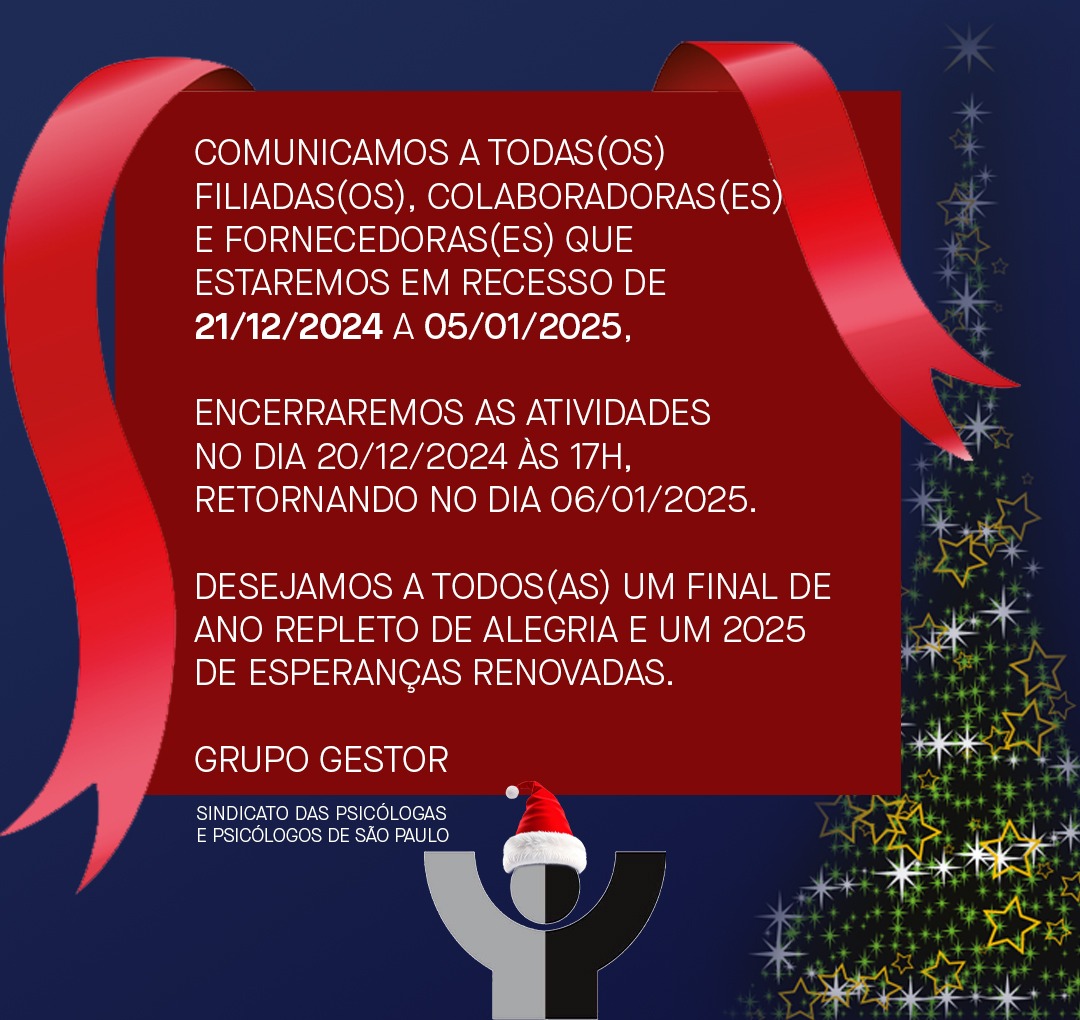A Comunidade de Práticas traz um olhar diferente sobre a Saúde mental, publicando entrevista feita por Bruno Dominguez, em especial para a revista Radis. Ele conversou com o Presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, Paulo Amarante, sobre a luta antimanicomial sobre o tema
Boa leitura!
Desde o início da década de 1970, o presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, Paulo Amarante, acompanha de perto as mudanças no cuidado às pessoas com transtornos mentais. Mais do que isso, participa ativamente dessas mudanças, como um dos pioneiros da luta antimanicomial no Brasil. Avesso a instituições, como ele mesmo afirma, Paulo orientou-se pelo pensamento daqueles que procuraram fazer uma psiquiatria centrada no sujeito, não na doença.
“David Cooper observava que a psiquiatria usava o mesmo modelo que estuda pedra, planta e animais para estudar a subjetividade. E na psiquiatria não se tem objeto, se tem sujeito”, observou, nesta entrevista à Radis. Coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (Laps/Esnp/Fiocruz) Paulo critica a redução da reforma psiquiátrica a uma simples reforma de serviços. E defende uma reforma da cultura. “É culturalmente que pessoas demandam manicômio, exclusão, limitação do outro”.
Como surgiu seu interesse pela psiquiatria?
Paulo Amarante: Começou cedo, durante a faculdade [de Medicina], porque meu irmão já era psiquiatra. Meu pai brincava que a Reforma Psiquiátrica era uma briga minha com meu irmão, já que eu parti para a linha antimanicomial, da qual sou um dos fundadores no Brasil. Sempre tive uma aversão muito grande às instituições. Fui do diretório acadêmico, do movimento estudantil secundarista, fui expulso do colégio… Aliás, tenho uma história longa de expulsões; na escola, por causa do movimento estudantil e porque escrevia um jornalzinho com questionamentos, denúncias de situações do colégio, em um momento de ditadura militar. Sempre foi difícil para mim ser enquadrado.
O que encontrou no Hospital Colônia Adauto Botelho, onde travou seu primeiro contato com a psiquiatria?
Amarante: Em 1974, fui trabalhar no hospital, em Cariacica, periferia da Grande Vitória (ES). Foi um impacto grande. Na época havia 800 internos, em uma instituição que talvez não pudesse acolher adequadamente nem a metade disso. Muito mau cheiro, ausência de condições mínimas de habitação, descaso, boa parte dos pacientes nus – isso era comum em hospitais e um dos argumentos era que os pacientes não gostavam de usar roupa, uma verdade, depois de tantos anos esquecidos e sem privacidade; mas não usar roupa era um sintoma, uma consequência. Eu e um colega, João Batista Magro, que também éramos músicos, começamos a reunir os internos para ouvir música, quando ainda não se falava em musicoterapia. Então, fui chamado por um diretor, que disse não ser digno para um médico tocar violão em uma instituição, que tirava a seriedade da profissão. Eu respondi que falta de seriedade era aquilo que acontecia no hospital, pessoas desnutridas, abandonadas, nuas, mal cuidadas.
A atividade com música foi intuitiva ou já estavam influenciados por autores?
Amarante: Intuitiva. Nunca tinha ouvido falar de Franco Basaglia, da antipsiquatria. Ou, talvez, tivesse ouvido, mas dentro da faculdade certamente não – não se tocava e ainda não se toca praticamente no nome desses autores. Quando apresentei o trabalho de conclusão da minha especialização em 1978, no Rio, fui advertido por estar usando autores contrários à Psiquiatra, como Basaglia, David Cooper, Ronald Laing. O título era Pedagogia da Loucura, reputando que os hospitais ensinavam as pessoas a serem loucas. Eu parti da história de um interno que ficou 40 anos no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, com a justificativa de ser supostamente homossexual. Como não havia ninguém para dar lhe alta e, depois, sob o argumento de que não poderia ser cidadão responsável, ficou décadas internado. Também fiz um filme sobre ele, um dos primeiros sobre loucura. O contato com os autores aconteceu quando vim para o Rio, na Uerj, e trabalhando no Hospital do Engenho de Dentro, onde nos reuníamos em grupos de estudos.
Veio para o Rio imaginando que aqui seria diferente?
Amarante: No último ano da faculdade, em 1976, vim fazer o internato no Rio com essa expectativa. O primeiro contato com o Instituto de Psiquiatria [da UFRJ] não foi ruim. Era uma clínica universitária, com 30 leitos, 15 femininos e 15 masculinos, aquele padrão de enfermaria, com prédio administrativo no meio – sempre houve nessas instituições a preocupação de que os pacientes não fizessem sexo. Eram pacientes de livro, como a gente chama na Medicina, pacientes clássicos: a paciente com sífilis cerebral, o paciente esquizofrênico paranoico com delírio místico. Moravam no hospital porque eram pacientes de aula: quando tinha aula do tema, eles eram levados para a sala, sem qualquer constrangimento.
Se o paciente melhorasse, atrapalhava…
Amarante: Se tivesse alta, acabava a aula. Alguns citavam os próprios sintomas, já tinham as aulas decoradas. A professora perguntava: “A senhora ouve vozes?” E a paciente respondia: “Ouço, sim, estou ouvindo a voz da senhora”.
A psiquiatra Nise da Silveira trabalhava no hospital nessa época. Havia afinidade entre vocês?
Amarante: Ela trabalhava em outra linha. Era psiquiatra, mas odiava psiquiatras, como gostava de dizer. E eu respondia: eu também, para provocá-la. A Nise acreditava que o psiquiatra era irrecuperável, e tínhamos que mostrar que estava errada. Os primeiros questionadores da psiquiatria foram psiquiatras: Franco Basaglia, Ronald Laing, David Cooper, Thomas Szasz, Aaron Esterson. No Brasil, também: eu, Pedro Gabriel, Ana Pitta, Jairo Goldberg, todos psiquiatras na fundação do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental. Era preciso criar uma outra psiquiatria, não uma antipsiquiatria – Basaglia dizia que o termo antipsiquatria podia dar margem a incompreensões. Ele procurava fazer uma psiquiatria centrada no sujeito, não na doença. A psiquiatria errou por focar na doença, fato abstrato, que tomou como fato objetivo, concreto, no modelo das ciências naturais. Cooper observava que a psiquiatria usava o mesmo modelo que estuda pedra, planta e animais para estudar a subjetividade. E na psiquiatria não se tem objeto, se tem sujeito. Nise chegou a buscar pesquisas demonstrando que nossa linha de trabalho estava equivocada. Nós dávamos alta aos pacientes e ela dizia que eles não tinham preparo para a vida social, que seriam vítima de violência, abuso. A internação representava um certo cuidado, na visão dela. Existem pessoas do campo da reforma psiquiátrica que têm esse pensamento, mas instituição nunca é proteção; favorece mecanismos de violência, controle, perda de autonomia.
O que os levava a defender a internação?
Amarante: A pesquisa mostrou que, quando aumentávamos as altas, aumentavam também as reinternações, e o dado estava correto. Por isso, tivemos a preocupação de criar uma rede forte de suporte externo, não só de serviço de saúde, mas também familiar. Nise teve papel importante, porque mostrava que outras formas de trabalho eram efetivas. Ela marcou por se recusar a aplicar eletrochoque, por não acreditar que medicação era o grande tratamento. Mas tivemos que tensionar com ela, porque isso tudo poderia ser feito também fora dos hospitais. No final da vida, ela nos apoiou.
Como era a conjuntura nessa época pré-mobilização dos trabalhadores de saúde mental?
Amarante: De 1976 em diante, começou a haver um movimento de mudança no sindicalismo médico e no conselho de Medicina no Rio. Um exemplo foi a criação do Reme, Renovação Médica, em que médicos questionavam a medicina. Faziam parte nomes importantes, como Carlos Gentile de Mello [Radis 131], que denunciava a mercantilização da saúde, e outros mais jovens, como Sergio Arouca e Reinaldo Guimarães. No mesmo ano, fiquei sabendo que haveria uma reunião para fundar um centro de estudos de saúde, e se criou o Cebes [Centro Brasileiro de Estudos em Saúde]. De uma vez só, conheci [José Gomes] Temporão, Arouca, Reinaldo [Guimarães], Eleutério Rodriguez Neto, Eric Jenner, Hésio [Cordeiro]. Sempre gostei de escrever, tinha uma máquina portátil, como se fosse o notebook de hoje, e logo me viram como redator do grupo. Tenho comigo o projeto original do SUS – A questão democrática na área da saúde –, que levamos ao simpósio na Câmara dos Deputados, em outubro de 1979. E apresentei no mesmo dia o documento Assistência psiquiátrica no Brasil: setores público e privado, o primeiro da reforma psiquiátrica brasileira. Dentro do Cebes, surgiu a ideia de se criarem núcleos de saúde do trabalhador, saúde da mulher e saúde mental – fiquei responsável por este último. Era um cenário muito favorável, chegamos a ganhar o conselho de medicina por um período.
Como se deu sua demissão da Divisão Nacional de Saúde Mental (Dinsam), junto a dois colegas, episódio que se tornou marco do movimento?
Amarante: Em 1978, comecei a trabalhar na Dinsam e notei ausência de médicos nos plantões, deficiências nutricionais nos internos, violência (a maior parte das mortes causada por cortes, pauladas, não investigadas e atribuídas a outros pacientes). Investigamos, e as conclusões deram muito problema. Outra denúncia era da existência de presos políticos em hospitais psiquiátricos, inclusive David Capistrano, pai, um dos fundadores do Partido Comunista (Radis 143) – e existem fortes indícios de que era ele mesmo. Havia médicos psiquiatras envolvidos em tortura e desaparecimento de presos políticos – a Colônia Juliano Moreira [no Rio] tinha um pavilhão onde só entravam militares. Fui chamado na sede da Dinsam e demitido, com mais dois colegas. Oito pessoas, entre elas, Pedro Gabriel Delgado e Pedro Silva, organizaram um abaixo-assinado em solidariedade a nós. Depois, mais 263 pessoas foram demitidas. Isso caracterizou um movimento. Conseguimos manter a crise da Dinsam, como chamávamos, na imprensa por mais de seis meses.
E essa discussão ganhou corpo…
Amarante: Em 1978, dois eventos importantes aconteceram, um deles, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, no início de outubro, em Camboriú (SC). Era um evento clássico de Psiquiatria. Nós nos reunimos em um grupo e o invadimos. Já havia uma articulação em rede: em Minas Gerais, o João Magro; na Bahia, Naomar de Almeida Filho e Luiz Humberto, que depois foi deputado federal; Ana Pitta, em São Paulo. Um médico conhecido, já idoso, Luiz Cerqueira, que deu nome ao primeiro Caps no Brasil, levantou questão de ordem para que o congresso reconhecesse a importância do nosso movimento, e esse ficou conhecido como o congresso da abertura. No Rio, houve o 1º Simpósio de Políticas, Grupos e Instituições, organizado por Gregorio Baremblitt e Chaim Samuel Katz, dois psicanalistas que vinham rompendo com a psicanálise, até então restrita aos médicos. Eles trouxeram para a discussão Franco Basaglia, Thomas Szasz, Erving Goffman, David Cooper, Ronald Laing e Shere Hite, com grande destaque na imprensa.
A comunicação está sempre presente nas suas respostas – cobertura da mídia comercial, denúncias da mídia alternativa, experiência pessoal com comunicação e saúde, a apropriação por grupos de pacientes…
Amarante: Sempre gostei de escrever. Criei logo um jornalzinho do movimento, com letras recortadas e coladas uma a uma para formar os textos, porque não tinha equipamento. Como eu estava proibido de entrar em qualquer hospital da Dinsam, ia para a porta distribuir o jornal. Buscamos a apropriação dos meios pelos pacientes, como parte do entendimento de que eles são sujeitos, atores políticos. Daí a ideia de experiências como a TV Pinel [no Rio de Janeiro], a rádio e a TV Tan Tan [em Santos]. Muitos profissionais ainda trabalham a partir da concepção de que fazer jornalzinho é terapia, e não é. É intervenção política, de cidadania, são outras formas de mostrar o mundo, de pensar a diversidade. Hoje existem vários jornais impressos, tevês e rádios comunitárias, com nomes muito criativos, como Antena Virada, TV Parabolinoica e Rádio Delírio Coletivo. São iniciativas importantes, que constroem uma outra noção de identidade desses sujeitos.
Quando se deu sua vinda para a Fiocruz?
Amarante: Fui convidado várias vezes, mas recusava. O Arouca me chamou em 1982, para trabalhar em planejamento, e eu não conseguia me soltar da saúde mental. Trabalhei com o Arouca quando ele assumiu a Secretaria de Saúde do Estado do Rio [em 1987], com a tarefa de abrir 33 centros de saúde mental. Quando deixou o cargo, ele e Sonia Fleury me convidaram a criar um núcleo de saúde mental na Fiocruz e aceitei. A Sonia tinha acabado de lançar Reforma sanitária: em busca de uma teoria e, em analogia, eu escrevi Reforma psiquiátrica: em busca de uma teoria. Eu falava que não se deveria reduzir a reforma psiquiátrica a uma reforma de serviços e nem a uma simples humanização do modelo manicomial, ideia que persiste até hoje — “ser mais humano com os coitadinhos”. Defendia que era preciso trabalhar com protagonismo, autonomia; ver esses sujeitos como sujeitos diversos, porém sujeitos. É um desafio dos Caps ainda hoje. Deslocam a tutela para tecnologias menos violentas e invasivas, mas ainda tutelam. Há muita dificuldade em aceitar que as pessoas são diferentes e devem ser diferentes. Minha luta atual é que se pode até suspender a medicação. Isso para médico é um absurdo: eles não acreditam que se possa ser um psicótico sem tomar antipsicótico. É um mito que a indústria farmacêutica criou, que só há um jeito dele se manter vivo, tomando remédio.
O movimento pedia a superação do modelo psiquiátrico. Isso parcialmente se deu na assistência, mas a medicalização continua.
Amarante: Há uma confusão sobre a superação do modelo assistencial hospitalar asilar manicomial, que está em processo razoável, embora hoje haja novas formas de institucionalização, como as comunidades terapêuticas e as instituições religiosas. O Luiz Cerqueira calculava que o Brasil tinha de 80 mil a 100 mil leitos psiquiátricos no final dos anos 1970. Hoje, são em torno de 30 mil leitos. De fato, reduzimos. Criamos Caps, estamos criando projetos de residências, que já são 2 mil, projetos de economia solidária, projetos culturais. Chamamos de dispositivos de saúde mental. Mas nosso trabalho se concentrou na desospitalização. Quando falamos em desmedicalização, não estamos falando em diminuição do medicamento, e sim na diminuição do papel da medicina. Queremos diminuir a apropriação que a medicina faz da vida cotidiana, o discurso médico sobre a vida. Isso não conseguimos. Um desafio hoje da reforma psiquiátrica é a formulação discursiva muito médica, por exemplo, as pessoas são contra o manicômio, mas não abrem mão do conceito de depressão tal qual utilizado pela indústria farmacêutica.
Como lidar com o que se chama de epidemia de depressão?
Amarante: Temos que pensar até que ponto o próprio aparato psiquiátrico está produzindo essa epidemia – uma discussão central, que não é feita devido ao controle da produção de conhecimento pela Psiquiatria e pela indústria farmacêutica. Boa parte da chamada crise mundial de aumento da depressão é produzida pela Psiquiatria, que não está se preparando para evitar, mas para produzir a depressão. Os relatórios contribuem para que pessoas se identifiquem como depressivas. Os intelectuais orgânicos da indústria farmacêutica têm muito claro que é possível aumentar o número de diagnósticos de depressão ensinando a ser depressivo. “Você chora muito? Tem ideias de morrer?”. Isso produz identificação e as pessoas não dizem que estão tristes e sim que estão depressivas. [Michel] Foucault ensinou que a pesquisa diagnóstica produz diagnóstico. É a produção social da doença.
No final dos anos 1980 começam a surgir iniciativas alternativas ao manicômio: em 1987 o primeiro Caps e, em 1989, a reforma em Santos (SP). Como se pensavam essas novas formas de cuidado?
Amarante: As alternativas – ambulatórios, hospitais-dia, centros de convivência – começaram a aparecer no início dos anos 1980, quando deixamos de ser oposição e fomos para o Estado de alguma forma. Em 1987, foi criado o primeiro Caps, em São Paulo, com o nome do Luiz Cerqueira. Mas ainda não havia essa concepção de rede, território e integralidade. O marco inovador foi a experiência de Santos, em 1989. A cidade tinha sua primeira prefeita eleita democraticamente, Telma de Souza, de esquerda — antes havia prefeitos biônicos, indicados pelo Estado. E ela fez uma revolução na prefeitura, nas políticas públicas como um todo. Na saúde, o secretário era David Capistrano Filho (Radis 143), mentor intelectual do Cebes, uma expressão do movimento sanitário. Ele levou à frente uma intervenção na clínica Anchieta, que tinha alta mortalidade. Não quis reformar, mas sim criar uma estrutura substitutiva e territorial — foi a primeira vez que apareceram essas expressões. Hoje se fala muito em rede substitutiva e territorial. A primeira gestão municipal que trabalhou com o projeto aprovado do SUS, ainda que não regulamentado, foi a de Santos.
Como avalia a participação social nas políticas de saúde mental?
Amarante: A participação está diminuindo. O SUS perdeu o espírito da reforma sanitária, como projeto civilizatório, e virou mais um sistema de saúde. E o mesmo aconteceu na reforma psiquiátrica: queríamos transformar a vida, a relação da sociedade com o comportamento do outro, e ficamos restritos a transformar os serviços. Houve redefinição do usuário, tido não mais apenas como paciente, mas que não chegou a ser o ator social que queríamos ter — é ator coadjuvante das políticas. Vai nos congressos, nos conselhos, mas não tem força.
E como está a rede de atenção psicossocial hoje?
Amarante: Desde o início desse processo, levantei a preocupação com os Caps funcionando em horário comercial, descontextualizados do território, como ambulatórios multidisciplinares. Por que fazer uma oficina de teatro dentro do Caps em vez de usar o teatro da cidade? E não basta transformá-los em Caps 24 horas. Vão ser minimanicômios, quando deveriam ser a substituição. É necessário mudar as bases conceituais dos serviços: as noções de doença, terapia, cura, tratamento. Se o ideal for a remissão total dos sintomas, não vai ser alcançado, com ou sem medicamento. Sempre se tem a ideia de uma normalidade abstrata. E o mais cômodo é medicar, apontar que a doença é do indivíduo, está nos neurotransmissores, fazer o controle bioquímico e tutelar pelo resto da vida.
Que reflexões sua doença recente, um câncer e complicações decorrentes, provocou sobre a institucionalização?
Amarante: A doença me marcou muito, por minha posição anti-institucionalizante. Minha experiência com hospitais é muito negativa: a relação do aparato médico com o sujeito. Me rebelei muito, questionei, pela perda de autonomia, de identidade. Os profissionais infantilizam e objetificam o paciente. Não sei se a expressão é humanizar, porque humanização me parece mais um conjunto de rituais. Defendo a mudança profunda na qualidade da relação com as pessoas que estão em tratamento. E fiquei pensando nos caminhos que escolhi. Depois da crise da Dinsam, as pessoas foram voltando para o atendimento clínico e eu segui com a discussão do direito à saúde. A ideia de reforma psiquiátrica é limitada, porque o que eu buscava era uma reforma da cultura. É culturalmente que pessoas demandam manicômio, exclusão, limitação do outro. Busquei a transformação da relação da sociedade com a loucura. E mudar cultura é um processo longo, muito demorado.
*Participaram Rogério Lannes, Eliane Bardanachvili, Elisa Batalha e Justa Helena Franco.