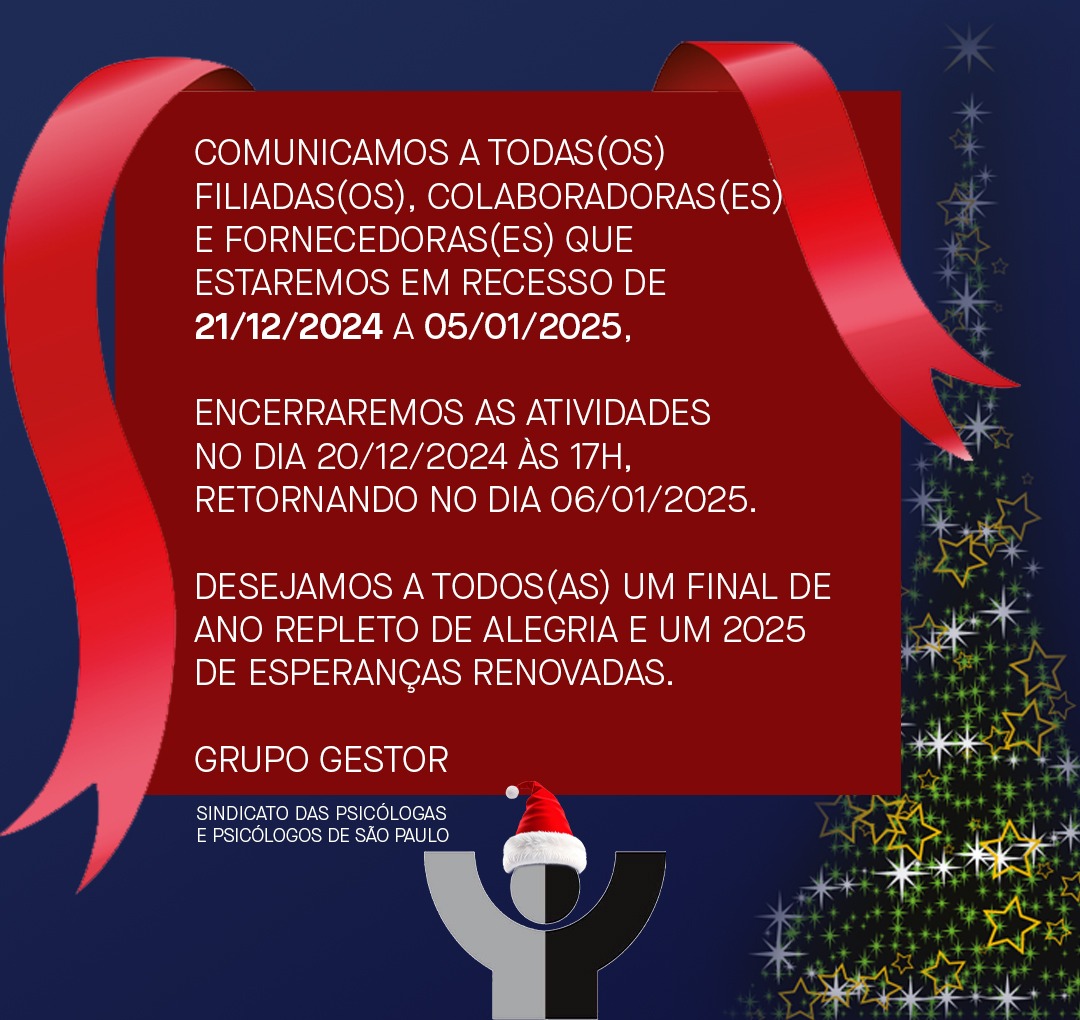São Paulo – Embora pouco se fale a respeito, o suicídio é mais comum do que se imagina em todo o mundo. No Brasil, esse problema de saúde pública poderia ser atenuado se os profissionais que atuam na saúde mental fossem melhor capacitados e se os serviços de emergência funcionassem de maneira adequada.
O psiquiatra e pesquisador Carlos Eduardo Estellita-Lins, do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT), vinculado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), é organizador do livro Trocando seis por meia dúzia – Suicídio como emergência do Rio de Janeiro, lançado no começo de julho.
A obra é fruto de uma pesquisa realizada nos principais hospitais de emergência do Rio de Janeiro, que teve como objetivo avaliar como as pessoas que tentaram se matar são atendidas nas emergências dos hospitais da cidade e as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde. Nesta entrevista, o especialista fala sobre as falhas no acompanhamento e no atendimento, que podem ser evitadas, e deixa também uma mensagem de otimismo: “Quando feito a tempo, de maneira adequada, o tratamento de uma pessoa vulnerável ao suicídio é muito bem sucedido”.
Dados da Organização Mundial da Saúde indicam aumento no número de caso de suicídio. Houve aumento ou havia subnotificação?
Há aí dois aspectos. Do ponto de vista científico há uma certa polêmica. A notificação abaixo do esperado é devido ao tabu, preconceito e problemas jurídicos. O financiamento da saúde e empresas de seguros de vida muitas vezes criam problemas, daí a dificuldade para notificar, a notificação equivocada ou eufemista, diluída, sem precisão. O sistema forense de verificação de óbitos, de perícia médico-legal, é precário.
Outro aspecto é que os dados que se tem mostram crescimento, e esse crescimento não é só pelo relativo. Quando a gente olha para populações especiais, indígenas, agricultores, há um nível altíssimo de suicídio e alcoolismo crescendo nas populações jovens. No país, o suicídio entre os jovens aumentou e se interiorizou. Não são mais as grandes cidades e seu modo de vida urbano estressado, com drogas, com violência. As cidades menores também estão tendo taxas mais altas entre os jovens. As comunidades rurais, em especial das plantações de fumo na região Sul, estão bastante acometidas.
O que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida?
O suicídio é um desfecho, um acontecimento, e não uma entidade isolada, única ou bizarra como se tende a pensar vulgarmente. É uma etapa de um curso de transtornos mentais: depressões isoladas ou recorrentes, transtorno bipolar, muito associados ao uso de álcool e outras drogas. A gente sabe que as pessoas ansiosas tendem a se automedicar, que os homens usam mais álcool embora hoje as meninas estejam usando também, o que é outro problema de saúde pública. A associação de depressão, ansiedade, álcool e drogas está muito ligado ao desfecho do suicídio.
Como o álcool contribui para o suicídio?
Uma droga tecnicamente mais perigosa que a maconha e a cocaína, o álcool é comparável aos opióides (como a heroína, que deprime o sistema nervoso central, diminuindo os batimentos cardíacos e a pressão arterial, podendo levar à parada cardíaca). Em pessoas ansiosas, inibidas, tímidas, pode vir a provocar uma depressão secundária, complicando a própria depressão e ansiedade que a pessoa já tem. À medida que o alcoolismo avança, os fracassos se somam – o álcool está entre as principais causas de falta ao trabalho. Essa somatória acaba resultando na depressão e no suicídio. É uma grande preocupação em saúde pública.
Como é o atendimento nos hospitais pesquisados?
Todos são representativos do que se faz hoje em urgência e que nós sabemos é que é precário não só no Rio de Janeiro como em todo o país. Na pesquisa, entrevistamos médicos e pacientes para saber como é o atendimento de urgência, as dificuldades, a um problema – o suicídio – que é mais comum do que a gente imagina. O que chama a atenção é que, ao serem entrevistadas, muitas pessoas que estão procurando ajuda numa emergência psiquiátrica ou em grupos de discussão revelam que o suicídio está presente na vida delas, que sempre esteve. Esse dado confirma resultados de outras pesquisas nacionais e estrangeiras.
O que mais chamou atenção na pesquisa?
Três aspectos principais: primeiro que o treinamento dos profissionais é inadequado – pouco ou nenhum treinamento em risco de suicídio. Prevalecem a incompreensão do processo em curso e o não monitoramento do paciente vulnerável. Aqueles que estão em risco devem ser acompanhados com frequência, como tratamento muito específico.
E no caso das internações, falta organização para um melhor cuidado. A falta de treinamento não é só no Rio de Janeiro. No país todo o treinamento em emergência geral é precário. O médico emergencista, uma subespecialidade para a qual não existe residência médica no país, está despreparado e as equipes psiquiátricas brasileiras estão subdesenvolvidas. Em resumo, o suicídio é ignorado por profissionais técnicos. É como se o problema não existisse.
Como é o atendimento em emergências psiquiátricas?
Nossa pesquisa verificou também que ainda temos no Brasil emergências psiquiátricas separadas da emergência geral, o que contraria uma tendência mundial. Ou seja, psicologia e psiquiatria são especialidades de suporte ao paciente em situação crítica. Então uma emergência geral deve ter todas as especialidades, inclusive essas.
Outra deformação que a gente observa é que com a dengue, as prefeituras buscaram desenvolver unidades de pronto atendimento (UPA), estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, que tendem a ser unidades de emergência – ideia questionável pela saúde pública e pela situação atual da medicina de emergência.
O que falta nas emergências?
É preciso treinar emergencistas e ter boas emergências. É preciso tratar emergência como assunto urbano, político, que concerne a todos os cidadãos. Mesmo na assistência suplementar privada a emergência está defasada no Rio de Janeiro com relação à capacidade, à facilidade de as pessoas chegarem à noite, na madrugada. Emergências envolvem hospitais bem preparados, acesso, meio de transporte de madrugada.
Outro aspecto revelado pela pesquisa: a comunidade precisa ser mais bem informada sobre o uso das emergências. Como elas têm pouca assistência primária básica – embora isso esteja melhorando, ainda há muita defasagem – há uma cultura de mais de 30 anos de utilizar as emergências como assistência mais rápida e a mais disponível porque é o único lugar que não fecha as portas e que os ambulatórios continuam funcionando noite e dia.
As pessoas procuram como alternativa, sobrecarregam as emergências com casos que não são urgência e muito menos emergências. Cria-se um uso perverso, equivocado, que é ruim para o próprio profissional de saúde despreparado para atende-las. Numa emergência europeia há sempre um cirurgião e equipes treinadas. Nos Estados Unidos há residência médica e treinamento em emergência. No Brasil não tem sequer a especialidade emergência.
O Conselho Federal de Medicina não reconhece essa especialidade. Um intensivista, que atua em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) constitui especialidade recente. Tem menos de 10 anos. E ele não supre a necessidade do profissional de emergência. Então, são vários aspectos somados. Vai do treinamento, aspectos políticos do Sistema Único de Saúde e da própria comunidade que é responsável quando sobrecarrega uma emergência com demandas que poderiam ser atendidas nos serviços de atenção básica à saúde.
Por que o tabu em torno do tema?
Há preconceito grande para se tratar do assunto mesmo na área de saúde. Os meios de comunicação vem avançando bastante. E o instituto onde trabalho na Fiocruz tem essa interface. No começo dos anos 2000, a Organização Mundial da Saúde divulgou recomendações para jornalistas do mundo inteiro dizendo que é preciso informar com responsabilidade e com cuidado porque há evidências de que a informação mal veiculada pode ser prejudicial às pessoas vulneráveis.
A recomendação foi seguida ao pé da letra e talvez isso tenha aumentado o preconceito e o tabu. Estamos num momento de seguir as recomendações, mas não omitir o assunto. Até porque a recomendação não é a de não se falar: é que não se noticie os meios em detalhes, que não se glamurize as pessoas importantes que funcionam como ídolos que por ventura cometam suicídio. Mas que não se omita o fato e, principalmente, o fato de que existe uma doença e, ainda mais, não se omitir o fato de que existe tratamento bem sucedido quando feito a tempo.
Como o suicídio é visto pelas religiões?
A gente não pode ignorar que o ocidente, e de certa forma as três grandes religiões monoteístas (Judaísmo, Cristianismo e Islamismo) têm tradição de preconceito contra o suicídio. Fizemos uma pesquisa que revelou um dado curioso. Dentro do setor cristão, os espíritas kardecistas se destacaram porque entendem que é preciso valorizar a prevenção já que seria perda de uma vida necessária.
Curiosamente, eles têm mantido a vanguarda nesse setor monoteísta no sentido de trazer informação.Toda religião, apesar de seu aspecto condenatório, também tem o seu valor. Não que a gente vá prescrever religião, mas em saúde pública a religião tem valor porque proporciona um convívio, uma rede social, cria fatores protetores à saúde mental. Em sociedades individualistas, globalizadas e mecanizadas como a nossa parece que as religiões, em vez de serem retrógradas como no século 19, estão assumindo hoje a vanguarda.